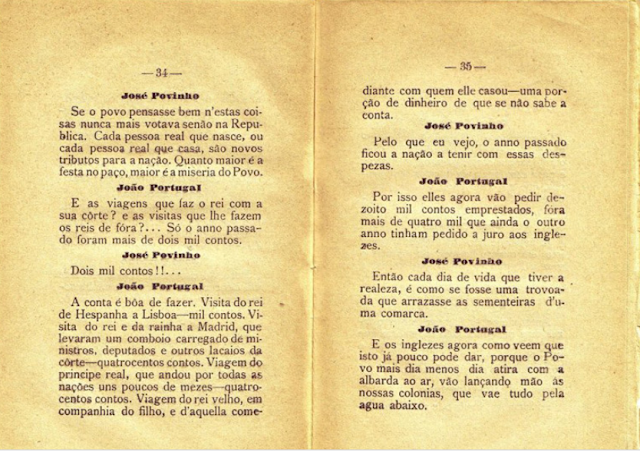1.
Comigo mesma
"Numa nuvem de renda,
musa, tal como a Salomé da lenda,
na forma nua
que se estenta e estua,
— sacerdotiza audaz —
para o Amor de que és presa,
rasgando véus de sonho dançarás
nesse templo pagão da Natureza!
musa, tal como a Salomé da lenda,
na forma nua
que se estenta e estua,
— sacerdotiza audaz —
para o Amor de que és presa,
rasgando véus de sonho dançarás
nesse templo pagão da Natureza!
Dançarás por amor das coisas e dos seres,
e por amor do Amor...
tua dança dirá renúncias e quereres!
faze com que desfira
tua lira
gargalhadas de gozo e lamentos de dor,
e possas em teu ritmo recompor
tudo que viste estática, surpresa,
e a imprevista beleza,
a beleza incorpórea
dos perfumes e sons indefinidos
de tudo que te andou pelos sentidos,
de tudo que conservas na memória.
e por amor do Amor...
tua dança dirá renúncias e quereres!
faze com que desfira
tua lira
gargalhadas de gozo e lamentos de dor,
e possas em teu ritmo recompor
tudo que viste estática, surpresa,
e a imprevista beleza,
a beleza incorpórea
dos perfumes e sons indefinidos
de tudo que te andou pelos sentidos,
de tudo que conservas na memória.
Dize da Natureza em que à luz vieste,
dize dos seus painéis encantadores,
dize da pompa, do esplendor celeste
das suas noites, dos seus dias,
e animiza com teus espasmos e agonias
as expressões com que a expressando fores.
dize dos seus painéis encantadores,
dize da pompa, do esplendor celeste
das suas noites, dos seus dias,
e animiza com teus espasmos e agonias
as expressões com que a expressando fores.
Alma de pomba, corpo de serpente,
enche de adejos
e rastejos
teu ambiente,
caiam em torno a ti pedras ou flores
de uma contemplativa multidão:
de lisonjeiros.e de malfeitores
cheias as sendas da existência estão.
Toda de risos tua boca enfeita
quando te surja um ser sincero, irmão,
e sejas sempre pura, espelhante, perfeita,
na verdade da tua imperfeição.
enche de adejos
e rastejos
teu ambiente,
caiam em torno a ti pedras ou flores
de uma contemplativa multidão:
de lisonjeiros.e de malfeitores
cheias as sendas da existência estão.
Toda de risos tua boca enfeita
quando te surja um ser sincero, irmão,
e sejas sempre pura, espelhante, perfeita,
na verdade da tua imperfeição.
Musa satânica e divina
ó minha Musa sobrenatural,
em cujas emoções, igualmente, culmina
a sedução do Bem, a tentação do Mal!
em teus meneios lânguidos ou lestos
expõe ao Mundo que te espia
que assim como há na Dança a poesia dos gestos,
há nos versos a dança da Poesia.
ó minha Musa sobrenatural,
em cujas emoções, igualmente, culmina
a sedução do Bem, a tentação do Mal!
em teus meneios lânguidos ou lestos
expõe ao Mundo que te espia
que assim como há na Dança a poesia dos gestos,
há nos versos a dança da Poesia.
Dança para esse gozo,
o grande gozo maternal
da Terra,
que te fez sem igual,
e, envaidecida,
em seu amor te encerra,
amando em ti a sua própria vida,
sua vida carnal
e espiritual.
o grande gozo maternal
da Terra,
que te fez sem igual,
e, envaidecida,
em seu amor te encerra,
amando em ti a sua própria vida,
sua vida carnal
e espiritual.
Torce e destorce o ser flexuoso
ó Musa emocional!
maneja os versos
de maneira tal
que eles se fiquem pelos séculos dispersos,
com os ritmos da existência universal.
ó Musa emocional!
maneja os versos
de maneira tal
que eles se fiquem pelos séculos dispersos,
com os ritmos da existência universal.
E a dançar,
a dançar,
num delicioso sacrifício,
patenteia a nudez desse teu ser puníceo
ante o sereno altar
do Deus que te domina.
Que importa a injúria hostil de quem te não compreenda?
Dança, porém, não como a Salomé da lenda,
a lírica assassina:
dança de um modo vivificador;
dança de todo nua,
mas que seja a nudez da dança tua
a imortalização do teu Amor!"
a dançar,
num delicioso sacrifício,
patenteia a nudez desse teu ser puníceo
ante o sereno altar
do Deus que te domina.
Que importa a injúria hostil de quem te não compreenda?
Dança, porém, não como a Salomé da lenda,
a lírica assassina:
dança de um modo vivificador;
dança de todo nua,
mas que seja a nudez da dança tua
a imortalização do teu Amor!"
Comigo Mesma, Gilka Machado. Publicado em "Mulher Nua", 1922. Retirado do livro "Poesias Completas", 1978.
2.
Aspiração A Pereira da Silva Eu quisera viver como os passarinhos: cantando à beira dos caminhos, cantando ao sol, cantando aos luares, cantando de tristeza e de prazer, sem que ninguém ouvidos desse aos meus cantares. Eu quisera viver em plenos ares, numa elevada trajetória, numa existência quase incorpórea. viver sem rumo, procurar guarida à noite para, em sono, o corpo descansar, viver em vôos, de corrida roçar apenas pela vida! Eu quisera viver sem leis e sem senhor, tão somente sujeita às leis da natureza, tão somente sujeita aos caprichos do amor... viver na selva acesa pelo fulgor solar, o convívio feliz das mais aves gozando, viver em bando, a voar, a voar. Eu quisera viver cantando como as aves em vez de fazer versos, sem poderem assim os humanos perversos interpretar perfidamente meu cantar. Eu quisera viver dentro da natureza, sufoca-me a estreiteza desta vida social a que me sinto presa. Diante de uma paisagem verdejante, diante do céu, diante do mar, esta minha tristeza por momentos se finda e desejo sofrer a vida ainda e fico a meditar: como os homens são maus e como a terra é linda! Certo não fora assim tão triste a vida se, das aves seguindo o exemplo encantador, a humanidade livremente unida, gozasse a natureza, a liberdade e o amor. Eu quisera viver sem a forma possuir de humano ser, viver como os passarinhos, uma existência toda de carinhos de delícias sem par... morte, que és hoje todo meu prazer, foras então meu único pesar! Eu quisera viver a voar, a voar até sentir as asas molentadas, voar ao cair do sol e ao vir das alvoradas, voar mais, ainda mais, pairar bem longe das criaturas nas sereníssimas alturas celestiais. Voar mais, ainda mais (o vôo me seduz) voar até, finalmente, num dia muito azul e muito ardente, ) — alma — pairar do espaço à flux, — matéria — despenhar-me de repente, sobre a terra absorvente, morta, morta de luz!
Do livro ' Estados de Alma ' de 1917
3.
Conjecturando
A Osório Duque Estrada
Lutar... mas para que?
para, em fim, cedo ou tarde, ser vencida? lutar... mas para que?
se a vida
é o que se vê
e se sabe: uma luta indefinida,
onde qualquer ser
que lute há de perder.
Exausta, na existência eu as armas deponho,
e, ao invés de lutar,
distraio-me a sonhar,
faço do próprio mal um motivo de sonho.
É bem melhor sofrer a dor definitiva,
dor que ora se amortece, ora se aviva,
e é sempre a mesma dor,
do que lutando, num constante abalo,
e alimentando da Esperança o anelo,
caminhar para o Ideal, consegui-lo, alcançá-lo,
e, logo após, perdê-lo.
Convenci-me,
agora, de que o gozo é um crime,
pelo qual nos cabe tétrica expiação.
Feliz de mim que ignoro do prazer,
tristes dos que muito venturosos são,
pois não sabem inda o que a sofrer
virão.
Ai dos felizes!
Ai dos felizes!
Bendito sejas, meu pesar interno,
embora sempre me martirizes!
Bendita a dor que no meu ser atua.
porque, apesar de tudo, a dor é boa
para quem a ela se habitua.
A dor antiga
é uma dor amiga,
dói pouco a pouco, não magoa
quase.
Ai dos que fruem da ventura a fase,
loucos, a espera de um prazer superno!
Ai dos que vivem nos enganadores
gozos desta existência!
— A dor inesperada é a maior dentre as dores, vem com toda a violência
das vinganças...
Alma de onde somente o riso escapa,
alma que da alegria não te cansas,
olha que a Dor prepara o seu bote, a socapa!...
se atingiste do gozo a plenitude
é que ela bem te ilude,
e se prepara e apura
— traiçoeira — te engendrando uma horrível tortura!
Viver... mas para que? Ai dos que amam a vida
por lhe haverem provado até então do prazer! torturas sofrerão quando a virem perdida,
por amarem a vida
hão de cedo morrer!
Ai do ser que acumula
o ouro das ilusões!
— um tesouro prepara
para
satsifazer a Morte avara...
quantas riquezas vão para os caixões!
Ai daquele que tem o corpo forte,
pois conservar a carne pura e sã
é o mesmo que engordar a ovelha para o corte!
ai daquele que, amanhã,
saboreado será pela gula
da Morte!
Ai dos que se supõem vencedores
desta luta e, embriagados de ventura,
passam alheios à Desgraça!...
Ai dos que gozam faustos e esplendores!
que tortura sem par,
por uma cova regelada e escura
um palácio trocar!
Veloz a vida dos felizes passa...
Ai dos ricos, que vivem sempre cheios
de vaidade e de bens roubados, bens alheios!
de que vale fazerem tanto mal,
se tudo hão de deixar pela Morte, afinal?!
Felizes dos que vivem na miséria,
de corpo seco, de alma esgotada,
pois nada levam para a funérea
orgia dessa velha deletéria.
Felizes desses que não têm morada,
que não têm conforto,
não tiveram passado e não terão porvir,
que, quando a Morte, enfim, lhes for chegada
(há sempre abrigo para um corpo morto!)
pouso conseguirão, em calma, hão de dormir.
Para os felizes tem a Morte horrores,
é o inferno com todas as torturas,
mas tem mistérios promissores
para as criaturas
que só souberam do travor das dores.
Cada dia que passa me persuade
que bem melhor que a felicidade
é a insensibilidade;
as delícias
da vida são fictícias,
e a morte é o meio singular
de não sofrer, de não gozar.
Feliz de quem se fez sofredora submissa
e desistiu da liça,
vencedora será quando a Morte chegar
porque lhe há de burlar
a insaciável cobiça.
Feliz de mim que, de ilusões vazia,
vou me acabando, dia a dia,
do declive da vida na jornada.
Feliz de mim que não terei mais nada
para a Morte levar...
Feliz de mim que, a esfalecer, diviso
um gozo doce, delicioso, manso,
pois se a morte não me for o paraíso
há de ao menos me ser da tortura o descanso.
Do livro ' Estados de Alma ' de 1917
Seleção de Jamile Hassan Rkain
Seleção de Jamile Hassan Rkain